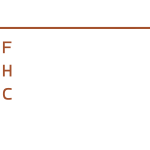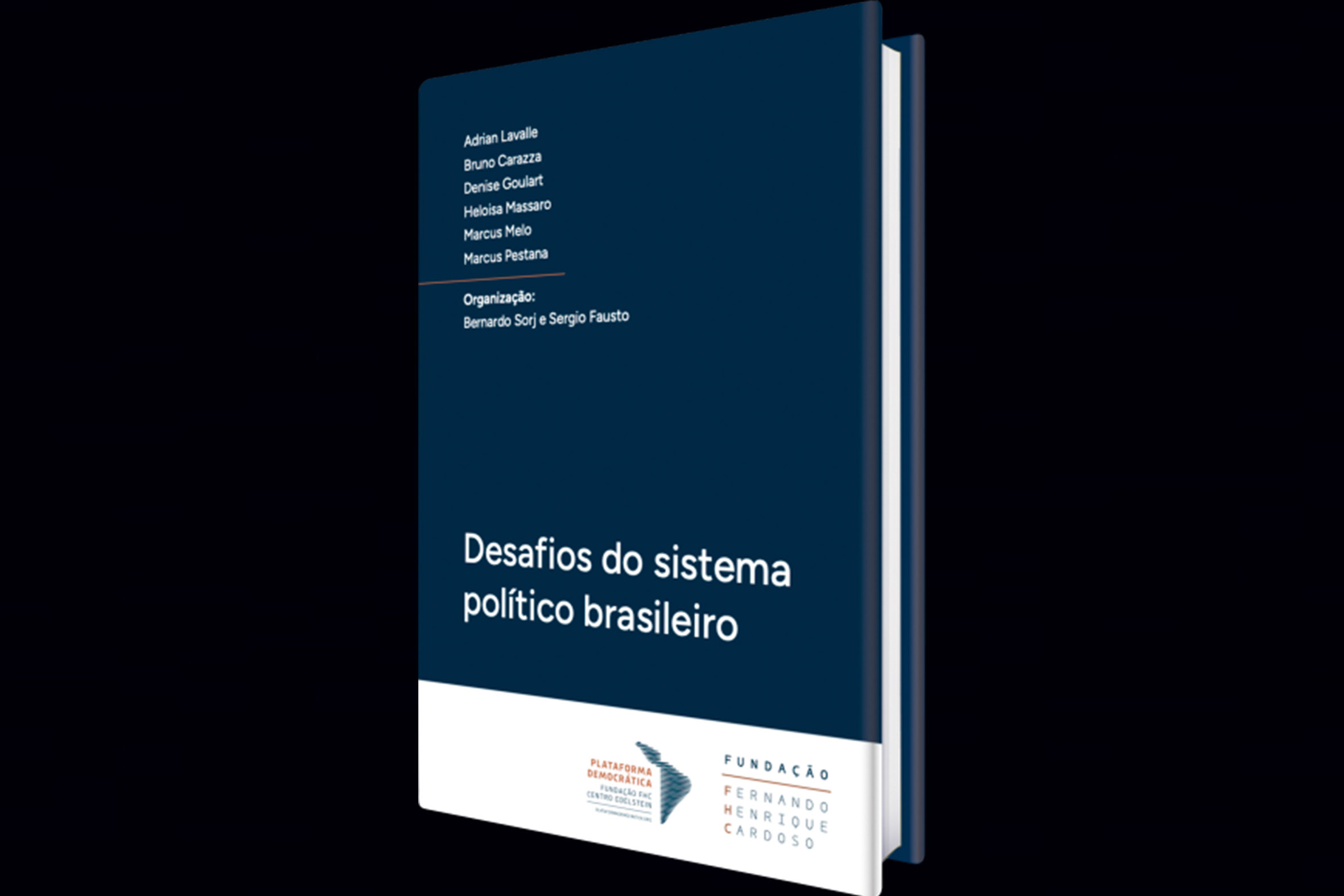No olho do furacão: Israel frente aos conflitos e desafios geopolíticos do Oriente Médio
Israel vive um paradoxo: ao mesmo tempo que está no coração de um Oriente Médio cada vez mais violento e imprevisível, o Estado judeu é no momento o país menos atingido por guerras e conflitos políticos na região. Mas esta situação de aparente calma pode mudar de uma hora para outra.
“O Irã e o Hizbollah, agora com apoio russo, estão cada vez mais atuantes, e o Estado Islâmico ou outros grupos terroristas podem se aproximar das colinas de Golan (território sírio conquistado por Israel em 1967 e anexado em 1981)”, disse o historiador israelense Itamar Rabinovich — ex-presidente da Universidade de Tel-Aviv e ex-embaixador de Israel em Washington de 1993 a 1996, período em que liderou as negociações de paz entre Israel e a Síria.
A palestra na Fundação FHC ocorreu em 10 de novembro, apenas três dias antes dos atentados de Paris, que adicionaram ainda mais drama e complexidade ao conflito no Oriente Médio.
Desde o fim da Guerra Fria há cerca de 25 anos e em especial após a Guerra do Iraque (2003), o Oriente Médio entrou em um longo período de incerteza, caracterizado pelo fracasso das tentativas norte-americanas e europeias de influenciar a situação política da região, por graves crises e conflitos internos que resultaram no desmoronamento de importantes Estados árabes, pelo surgimento e/ou fortalecimento de milícias e organizações terroristas e pela criação de um novo equilíbrio de poder regional.
Rabinovich lembrou que a Guerra Fria terminou com o colapso da União Soviética em 1991. Naquele mesmo ano, o então ditador iraquiano, Saddam Hussein, invadiu o vizinho Kuwait, e os EUA imediatamente formaram uma ampla coalizão internacional para expulsá-lo, dando início a um período de alta do prestígio norte-americano na região. “Na época, restara apenas uma superpotência mundial, que mostrou estar pronta a agir em defesa de seus aliados no Oriente Médio. No mesmo período, teve início o chamado processo de paz de Madri, o esforço mais sério realizado até hoje para resolver o conflito árabe-israelense”, lembrou o professor de história da Universidade de Tel-Aviv.
O prestígio norte-americano começou a declinar após a invasão do Iraque e a deposição de Saddam Hussein em 2003, pois os EUA não tiveram sucesso em estabilizar o país e promover um Iraque democrático. “Mal concebida e implementada, a invasão destruiu o Estado iraquiano e abriu as portas para muitos dos problemas que surgiram desde então como o fortalecimento do terrorismo e a crescente influência do Irã”, explicou.
As enormes dificuldades enfrentadas por forças de ocupação norte-americanas e britânicas no Iraque pós-Saddam também resultaram no que o palestrante chamou de fadiga norte-americana (e europeia). “Vivemos uma era pós-heroica em que os EUA e os seus tradicionais aliados já não querem mandar seus jovens para morrer em campos de batalha distantes”, disse o ex-diplomata israelense.
O presidente Barack Obama deixou claro que não pretende mais envolver os EUA em uma guerra quando o ditador sírio Bashar Al-Assad atacou sua população com armas químicas, cruzando uma “linha vermelha” que havia sido estabelecida pelo próprio líder norte-americano. “No momento em que aquela linha foi transposta e os EUA se abstiveram de agir, todos entenderam que Obama não envolveria as suas forças militares diretamente”, afirmou.
Apesar de os EUA seguirem atuando no Oriente Médio — armando e treinando forças iraquianas e grupos de oposição ao regime sírio, assim como bombardeando grupos radicais como o auto-proclamado Estado Islâmico (ISIS, sigla em inglês) — sua influência diminuiu nos últimos anos. “Como não existe vácuo em geopolítica, temos visto um esforço por parte do presidente russo, Vladimir Putin, de ocupar esse vácuo”, disse Rabinovich. Desde o fim de setembro, aviões russos têm bombardeado forças de oposição ao ditador sírio, entre elas o ISIS, numa clara demonstração de apoio ao regime de Bashar Al-Assad.
Segundo o palestrante, a intervenção militar de Putin visa garantir a manutenção de uma base militar russa em território sírio no Mar Mediterrâneo, impedir que os EUA aumentem sua influência numa eventual Síria pós-Assad e evitar que o ISIS consolide seu domínio sobre uma vasta área dos territórios iraquiano e sírio e estenda sua ação às repúblicas russas de maioria muçulmana na região do Cáucaso, entre elas a já problemática Tchetchênia. Além, claro, de reconstruir ao menos parte do poder russo perdido com o fim da URSS.
“Putin aposta alto, mas, com o recente atentado a bomba que derrubou um avião russo no Egito, o presidente russo começa a descobrir que não há passeio fácil no Oriente Médio”, disse.
O quadro se tornou ainda mais imprevisível depois dos ataques de 13 de novembro em Paris e com a declaração de guerra da França ao ISIS. Desde então, aviões franceses reforçaram o bombardeio de alvos em Racqa, cidade onde está o quartel general do grupo terrorista na Síria. A França, aliás, age em cooperação tanto com os EUA quanto com a Rússia, que se encontram em lados opostos no conflito sírio. Os americanos querem que Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, deixe o poder. Até os ataques em Paris esta também era a posição da França.
Inverno árabe
Diante da recente escalada das ações russa e francesa, Itamar Rabinovich advertiu que as tentativas de potências estrangeiras de intervir no Oriente Médio não foram bem sucedidas nos últimos anos. O Estado Islâmico, principal ameaça terrorista do momento, surgiu do caos criado pela invasão norte-americana do Iraque e a guerra civil na Síria. “O grupo já controla um vasto território no Iraque e na Síria, estabeleceu um sistema legal baseado na lei islâmica e obtém recursos com a venda de petróleo e antigüidades e resgates de pessoas sequestradas”, disse.
Na Líbia, a intervenção ocidental, com destaque para a atuação dos EUA e da França, ajudou a derrubar o ditador Muammar Gaddafi em 2011, mas não teve êxito em por no lugar um novo regime democrático estável. O resultado é uma situação de completa anarquia. “O aumento da imigração ilegal da África para a Europa é mais uma consequência não esperada da queda de Khadafi, pois o ex-ditador líbio tentava impedir que barcos ilegais partissem da costa líbia em direção aos países mediterrâneos do sul da Europa”, explicou.
Iraque, Líbia e Síria são Estados nacionais árabes que entraram em colapso nos últimos anos, assim como o Iêmen. O Egito, outro país árabe de grande importância, enfrenta sérios problemas políticos internos e aumento do terrorismo. “As esperanças surgidas durante a chamada Primavera Árabe (2010/2011) resultaram na lúgubre realidade já descrita por alguns como um verdadeiro inverno árabe”, disse o professor israelense.
Os novos protagonistas
Itamar Rabinovich chamou atenção para um novo fenômeno pouco discutido no resto do mundo: o crescente protagonismo no Oriente Médio de dois países não-árabes — Turquia (origem otomana) e Irã (persa). “Pode parecer surpreendente porque durante muitos séculos até o início da Era Moderna a região foi dominada pelo Império Otomano (1299 -1922) e por herdeiros de reinos persas. Mas durante o Século 20 tanto Irã quanto Turquia tiveram papel reduzido no sistema político e diplomático do Oriente Médio. Não é mais assim”, afirmou o palestrante.
Fundada por Mustafa Kemal Atatürk, o grande heroi da Guerra da Independência Turca (1923), a Turquia passou boa parte do Século 20 trilhando o caminho de construção de uma república secular moderna voltada ao Ocidente. Tinha a separação entre Estado e religião como um dogma e desejava se integrar a Europa. O que mudou neste início de Século 21?
Primeiro, a Turquia foi esnobada pela União Europeia, que, ao mesmo tempo que acenava para o país, temia a adesão ao bloco de uma nação de quase 80 milhões de muçulmanos. Segundo, desde 2003 os turcos elegeram como primeiro-ministro Recep Tayyip Erdoğan, líder de um partido de tendência islâmica. Em 2014, ele se tornou presidente. “Erdoğan não foi o primeiro líder islâmico turco, mas é um político muito hábil e paciente, que conseguiu gradativamente neutralizar as forças de resistência à islamização do país, como os militares, o Judiciário e a imprensa”, explicou.
“Anteriormente, a Turquia tinha uma ‘política de zero conflito’ com seus vizinhos, mas recentemente críticos da nova política externa do país têm sugerido a inclusão do número 1 antes daquele zero. O fato é que a Turquia sob Erdoğan tentou interferir sem sucesso na crise egípcia e, na Síria, tem agido para derrubar Bashar Al-Assad, apoiado pelo Irã”, continuou. Para saber mais sobre o tema, leia texto sobre o seminário “A Turquia (democrática?) no explosivo xadrez do Oriente Médio”, ocorrido em maio deste ano na Fundação FHC.
Já o Irã passou boa parte do Século 20, durante a dinastia Pahlavi (1925-1979), preocupado em se modernizar e em resistir às tentativas de controle soviético. Com a chegada ao poder dos aiatolás (1979), tentou exportar sua Revolução Islâmica para outros países da região, mas só depois de 2003, com a queda de Saddam Hussein, teve êxito em ampliar sua influência no Oriente Médio.
“O mercado natural para os planos hegemônicos de Teerã são as comunidades xiitas do Oriente Médio, cuja população muçulmana se divide entre xiitas e sunitas. O Iraque tem maioria xiita, mas a elite que detinha o poder na época de Saddam era sunita. Também há fortes comunidades xiitas no Líbano e na Arábia Saudita”, explicou Rabinovich.
Até o momento, o Irã teve sucesso em influenciar a situação política no Líbano, onde a milícia Hizbollah, apoiada por Teerã, é mais forte do que o governo e o Exército, e em parte no Iraque. Na Síria, o Irã apoia o regime de Assad, aliados dos xiitas e combatido por grupos rebeldes sunitas.
“Turquia e Irã são países de 80 milhões de habitantes cada, com economias e sociedades civis fortes, elites e comunidades acadêmicas sofisticadas, importante desenvolvimento científico e tecnológico, Exércitos poderosos. A crescente influência de ambos muda profundamente o equilíbrio de forças no Oriente Médio”, concluiu o diplomata.
Os desafios de Israel
O terceiro Estado não-árabe forte na região é Israel. “Temos atualmente uma correlação de forças no Oriente Médio em que os três principais atores não são árabes. Isto é uma importante novidade”, afirmou o palestrante, que descreveu como simplista a ideia de que um mundo árabe dividido por conflitos — e, portanto, mais fraco — seria algo positivo para Israel.
Segundo Rabinovich, não há risco no momento de uma guerra convencional entre Israel e um ou mais Estados árabes como ocorreu em cinco ocasiões durante o Século 20 (a primeira em 1948; a última em 1982). “Temos paz com Egito e Jordânia, e os Exércitos sírio e iraquiano não representam mais ameaça. O que existe é o risco do que chamamos de guerra assimétrica, entre um Exército regular, como o israelense, e um Exército irregular, formado por milícias e grupos terroristas”, disse.
Exemplos desse tipo de enfrentamento seriam a guerra contra o Hizbollah, no Líbano, em 2006 e as diversas operações militares contra os palestinos na Cisjordânia ocupada (em parte controlada pela Autoridade Palestina, que reconhece o Estado de Israel desde o Acordo de Oslo, de 1993) e na Faixa de Gaza (controlada pelo Hamas, que não o reconhece). Tanto o Hizbollah como o Hamas possuem mísseis com capacidade de atingir o território israelense, apesar do eficiente sistema anti-míssil de Israel.
“Como um Estado que faz parte do sistema internacional pode lutar contra uma organização que esconde seus mísseis em escolas, mesquitas e hospitais sem correr o risco de ser acusado de crimes de guerra? As convenções de Genebra foram idealizadas para estabelecer limites para guerras convencionais, mas não se aplicam à guerra assimétrica que Israel tem de enfrentar”, disse o diplomata israelense.
Segundo Rabinovich, o desafio de Israel é adaptar seu Exército e suas forças de segurança para lidar com essa guerra assimétrica e convencer a comunidade internacional de que as convenções de guerra existentes precisam ser atualizadas para uma nova realidade.
Para o palestrante, o maior problema israelense — tanto doméstico quanto de política internacional — continua sendo a dificuldade em chegar a um acordo de paz definitivo com os palestinos. É bom lembrar que, se nada for feito, em 15 ou 20 anos, a maioria da população vivendo em Israel e nos territórios palestinos ocupados será de origem árabe e não judaica (os palestinos têm mais filhos em média do que os judeus).
Paradoxalmente, a causa palestina está no momento em segundo plano no resto do Oriente Médio e também fora dele. A União Europeia enfrenta um triplo desafio: a onda de refugiados, o crescente radicalismo das comunidades muçulmanas que vivem em países europeus e o terror do Estado Islâmico. EUA e Rússia também estão sob constante ameaça terrorista.
“Não tenho uma fórmula mágica para resolver o problema palestino e temo que não seja o momento adequado para isso. Mas é urgente adotar medidas para reavivar o processo de paz e, no futuro, chegarmos a uma solução baseada na ideia de dois Estados soberanos, um judeu e um palestino”, defendeu o professor de história.
Ao falar sobre os efeitos da guerra na Síria em Israel, Rabinovich disse haver um paradoxo: “Apesar de sermos vizinhos, somos hoje o país do Oriente Médio menos afetado pelo conflito. Não apoio o governo do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, mas reconheço que ele tem sido cauteloso”, afirmou, referindo-se à não intervenção de Israel na guerra civil síria.
Por fim, Itamar Rabinovich disse ser favorável ao acordo nuclear recentemente anunciado entre Irã, de um lado, e EUA, Rússia e potências europeias, com participação da ONU, de outro. “Se Israel tivesse atacado unilateralmente as instalações nucleares iranianas, as consequências seriam dramáticas e atrasaríamos o programa nuclear iraniano em dois ou três anos. Embora suscite uma série de dúvidas sobre sua implementação, o acordo assinado recentemente tem o mérito de atrasar o programa nuclear em uns 15 anos”, afirmou.
Otávio Dias, jornalista, é especializado em questões internacionais. Foi correspondente da Folha em Londres, editor do estadão.com.br e editor-chefe do Brasil Post, parceria entre o Huffington Post e o Grupo Abril.